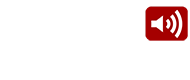A 12ª edição do NOS Alive, que decorreu nos dias 12, 13 e 14 de Julho, repetiu a dose de sucesso da edição anterior. Novo ano com foco no rock e mais uma casa esgotada, não fosse este o ano do tão aguardado regresso daquele que é um dos nomes mais pedidos pelo público do festival – Pearl Jam. O foco no rock estendeu-se até aos outros dois headliners do festival, Arctic Monkeys e Queens Of The Stone Age, sendo este para muitos um dos melhores cartazes que o NOS Alive já dispôs no Passeio Marítimo de Algés.
12 de Julho
Com o ambiente solarengo que habitualmente ilumina a paisagem verde e marítima do recinto, desde cedo se verificou que este primeiro dia iria arrastar uma boa casa para a primeira maratona de concertos. Quem não estava assim disposto preencheu o renovado Palco Comédia, arrojadamente decorado pelo artista Bordalo II, especialmente uma massa de fãs mais “nova”. Isto porque, a rematar o dia à chegada para muitos, o ícone Bryan Ferry seja um nome desconhecido para a maioria dos fãs que contava as horas para receber os Arctic Monkeys, nome maior apontado para este dia. Um cenário de cortinas e requinte ao piano, Ferry deu um recital de história dos seus Roxy Music. Foram recordados alguns dos anos mais marcantes da banda que se atravessou nos anos 70 e 80 pelo glam rock e pela pop, sempre com um piscar de olho a um público de um festival não muito distante dali (que curiosamente neste 2018 se deslocou de Oeiras para se fixar em Cascais). Para o final do seu concerto no Palco NOS ficou “Let’s Stick Together”, aquela versão que quase é mais sua do que a original de Wilbert Harrison, e os raros aplausos de quem identificou uma lenda do rock mais sofisticado que saiu das terras de sua majestade.
Não muito depois e já no Palco Sagres, uma espécie de “nacionalização” de um festival que durante anos conhecemos como ser da Heineken, os igualmente britânicos Wolf Alice provocaram uma enchente de uma fatia de público mais jovem. Na migração entre palcos notou-se até uma tendência que se tem vindo a confirmar neste NOS Alive – uma espécie de “coachellização”, se a apropriação estrangeirista nos permitir inventar este termo, fez com que a moda se tornasse uma das prioridades dos festivaleiros. Mas à música regressemos, porque os Wolf Alice reconquistaram um palco que já conheciam e desta vez com uma atitude mais punk, com Ellie Rowsell a liderar o quarteto com agressividade vocal e o guitarrista Joff Odie a elevar várias vezes a sua guitarra em forma de ostentação.
[RoyalSlider Error] No post attachments found.
«This is the first day of my last days!», depressa exclamou Trent Reznor no primeiro verso de “Wish”. Em palco estavam os Nine Inch Nails quase desafiados a fazer cair o queixo a quem pouca ou nenhuma fé teria no alinhamento da banda para o concerto no NOS Alive, especialmente para quem ainda tem algures um altar à tríade Pretty Hate Machine, Broken e The Downward Spiral. Dadas as escolhas nas datas anteriores, seria de prever uma setlist “ao lado” dessas preferências, especialmente focadas na apresentação de trabalhos como Add Violence ou Bad Witch, recentemente lançados, mas a longa ausência dos palcos portugueses terá motivado Reznor e companhia a investir nos fãs mais antigos. Nove anos volvidos desde a última vez por “cá”, este concerto no NOS Alive terá sido encarado como uma data em nome próprio, tal a ambiência montada tanto pela realização das imagens nos ecrãs laterais, a preto e branco e com um ritmo alucinante, assim como a dinâmica geral entre faixas.
Depressa se chegou a “March of the Pigs”, se encheu os pulmões por “Closer” – «You get me closer to God», com Trent ali tão perto. Na recta final uma versão de “I’m Afraid of Americans”, de David Bowie, que tão bem espelha a realidade do outro lado do Atlântico, uma “The Hand That Feeds” e aquela incrível e intemporal “Head Like A Hole”. «You’re going to get what you deserve», cantou-se no final do refrão dessa, para de seguida nos despedirem com a arrepiante e catártica “Hurt”, uma daquelas faixas que nos faz entender que a música nos pode levar para tantos sítios. Inclusive aos céus. Amén, um bem haja a estes Nine Inch Nails.
As horas que se seguiram fizeram dispersar as diferentes fatias de fãs que aguardavam pelos headliners do dia. Quem quis guardar lugar enfrentou Snow Patrol no Palco NOS, que face à estagnada popularidade da banda britânica a resposta maior terá sido dada nos singles mais óbvios: “Chasing Cars”, já perto final, e a dupla “Open Your Eyes” e “Run”, apontadas para o miolo do concerto. Enquanto isso, à mesma hora, a junção de Salvador Sobral e Janeiro a António Zambujo no espaço EDP Fado Café motivou uma enchente, a meio-caminho de um Palco Sagres lotado para Khalid. A estreia nacional de uma das revelações de 2017 teve muito calor humano face à dimensão da tenda deste palco, que se revelou curta para o R&B do jovem norte-americano.
[RoyalSlider Error] No post attachments found.
Com as atenções já todas postas no Palco NOS, os Arctic Monkeys não demoraram a mostrar quão diferentes estão desde a apresentação anterior no festival. Musicalmente falando é óbvia a mudança de AM para Tranquility Base Hotel + Casino, mas essa estendeu-se também à roupagem e à abordagem geral feita a cada tema. Quase saído de uma cena de Fear and Loathing in Las Vegas, Alex Turner mostrou-se mais teatral do que nunca e pareceu descontraído pela troca da brilhantina pop pela vida de um crooner consagrado. Em questões de coesão de alinhamento e execução geral dos temas, vimos até uns Arctic Monkeys em melhor forma do que há quatro anos atrás no mesmo palco, mas isso não terá resultado propriamente numa maior aclamação. Os efeitos contrários, porém, terão de ser apontados a todo ao ambiente ameno de Tranquility Base Hotel + Casino, disco que coloca a banda de Sheffield no hall de um alojamento refinado, ao piano, quase ao som de minuciosas slot machines ao fundo do corredor. Ou seja, exactamente o oposto do ambiente de um festival de Verão.
A resposta possível do público, cuja minoria sabia mais do que um ou dois versos além dos refrães de “Four Out Of Five” ou “One Point Perspective”, foi de uma correria tal para sacar aquelas instastories quando “Do I Wanna Know?” surgiu finalmente no alinhamento. O fenómeno seguinte, aquele em que 10 a 20% da plateia diz adeus, espelha a realidade dos Arctic Monkeys em 2018: os fãs conquistados em AM, esse home run do pop rock, conseguem encontrar uma ligação à energia dos primeiros três álbuns, algo que não acontece com a delicadeza mais “adulta” do trabalho mais recente. As desejadas explosões de energia – que aconteceram pontualmente, como “Brianstorm”, “The View From The Afternoon” ou “Teddy Picker” na primeira metade do concerto – foram gradualmente trocadas por um ou outro bocejo. Ainda assim foram apresentadas em palco algum do reportório mais interessante do rock da última década, como “Cornerstone” e “Pretty Visitors”, que ajudaram a recordar a força de Humbug. A culpa do resultado final e do gosto geral a desilusão não será dos Arctic Monkeys e não será do público. A mea culpa faz-se pela proposta de um alinhamento destes passar por um festival. Que se façam as pazes num concerto em nome próprio, com o ambiente “sofisticado” indicado para os temas de Tranquility Base Hotel + Casino, onde Alex Turner se poderá sentar ao piano, conversar, beber o seu Martini e contar-nos qual será a próxima aventura sónica da banda. Ficamos à espera.
A aproveitar e de que maneira o vagão pós-Arctic Monkeys, Sampha mostrou no Palco Sagres parte do brilho de Process, álbum que lhe valeu um Mercury Prize. A sua fórmula própria de R&B e pop pode não ter o mesmo polimento ao vivo, mas ganhou liberdade para transformar a tenda numa tímida pista de dança. «Um prazer absoluto», contou-nos, a dada altura, quando fez cair a sua “máscara” de artista neste feliz regresso a Portugal, um anos depois da sua estreia no Porto. Também agradado terá ficado quem se sugeriu ao avanço da madrugada ao som de Orelha Negra, no NOS Clubbing, com um som ainda menos polido, mas mais orgânico, forte e que em nada fica a dever ao groove de uma estrela em ascensão.
[RoyalSlider Error] No post attachments found.
13 de Julho
Se o céu cinzento no início de tarde intimidou o ambiente do festival, a chegada dos Kaleo às 17h00 no Palco NOS depressa convenceu com a chegada de raios de sol. A banda islandesa contrasta a sua música com as paisagens do seu país: o seu blues rock não é gélido, pelo contrário, é bastante quente e remete-nos para o deserto da folk e das estradas americanas. Esse som, provavelmente fruto da sua “migração” para Austin, no Texas, abriu-lhes a porta da crítica global e por cá chegaram-nos singles como “Way Down We Go”, “No Good” ou “Automobile”. A expressão por cá pode ainda não ser muita, mas os Kaleo souberam aproveitar a ocasião para conquistar mais fãs.
Para ligar de vez as engrenagens do rock – aquele não passa na televisão e faz mesmo muito barulho, não fosse aquela amplificação toda em palco – os Japandroids estiveram debaixo da tenda do Palco Sagres. Uma dinâmica que celebra o garage na forma mais universal do punk, sem tempo a perder e sem poupar singles nos tempos certos: “Near To The Wild Heart Of Life”, faixa-título que abre o álbum mais recente, depressa apresentou a dupla, que se mostrou agradecida pela sua terceira passagem por Portugal para tocar esse mesmo disco. Ainda assim foi Celebration Rock, álbum anterior, que teve mais em foco, com a apoteótica “The House That Heaven Built” guardada para o final, a plenos pulmões. «And if they try to slow you down / Tell ‘em all to go to hell», continua febril e continua autêntico – por favor não nos digam nada quando os Japandroids deixarem de ser tão porreiros.
Com um som mais quente mas com uma presença mas fria, os Black Rebel Motorcycle Club são uma máquina oleada de rock’n’roll de cabedal e outros tons negros. Wrong Creatures, a colecção de músicas mais recentes destes californianos, apresentou-se no Palco NOS de forma simples, sem grande interacção e também sem a força necessária para mostrar um motor que continua a rugir sem atingir altas rotações. No reverso desta medalha mostraram-se os Eels, no Palco Sagres, com uma grande entrada em palco, com direito a cornetas e todo um semblante garage rock. Uns óculos e uns chapéus característicos contribuíram para a transformação de Mark Oliver Everett numa persona capaz de convencer com o seu rock alternativo, que tanto tem de indie como de blues, e que dificilmente aborrece ao vivo pelo seu ritmo enérgico. Com muitas mais dificuldades em agarrar o público – e também algo deslocados dada a faixa etária dos apreciadores do dito rock alternativo – estiveram pouco depois os Yo La Tengo. Ficou “reservado” aos ávidos seguidores de Georgia Hubley, Ira Kaplan e James McNew, e pouco mais.
“Nobody Else Will Be There” foi o tema escolhido para dar início ao concerto de The National, que deu desde logo para tonalizar a presença da banda nesta aparição no NOS Alive em jeito de apresentação de Sleep Well Beast. Se há banda que em palco capaz da extrapolação, são os The National – a sequência “The System Only Dreams In Total Darkness” e “Don’t Swallow The Cap” podem ter ambientes díspares em estúdio, mas ao vivo é tão óbvio o alcance e o extenso reportório de boas canções do quinteto. Mas se lhes reconhecemos o valor, também eles o reconhecem a Portugal, onde já deram «alguns dos seus melhores concertos», palavras do próprio Matt Berninger, aquando a dedicatória de “Bloodbuzz Ohio” ao público português. À expressão emotiva de “I Need My Girl” segue-se o abraço físico de “Day I Die” e “Graceless”, em que Matt desce ao público, antes de uma “Fake Empire” tenebrosa e viciante, como sempre. E já em nota final, “Mr. November” convida mais uma vez Berninger a descer à plateia, desta vez para se dirigir ao balcão de cerveja mais próximo, enquanto “Terrible Love” e “About Today” foram o tónico para nos deixar a avaliar este imensurável amor que se tem pelos The National, não importa quantas passagens façam por cá, que é sempre especial, como o foi neste 13º de Julho.
A “nova vida” dos Queens Of The Stone Age – em aspas porque nunca terminaram – não é muito consensual no público e imprensa. Quem ficou alarmado com …Like Clockwork, álbum de 2013, ficou totalmente desarmado com o mais recente Villains. As guitarradas, de dois tons abaixo, já não são o elemento principal da composição de Josh Homme e companhia, havendo agora mais espaço para outro tipo de energias: há agora um groove gingão e as guitarras abanam ao nível da anca. Foi assim mesmo que abriram o concerto, com “Feet Don’t Fail Me” e “The Way You Used To Do”, na mesma ordem em que o novo álbum se inicia.
Pouco faltaria para levarmos um reality slap do passado, com a força demoníaca de “A Song For The Deaf”, mas tanto “Smooth Sailing” como “The Evil Has Landed” provaram o espectro possível do rock que nos chega de Palm Desert: há falsettos e uma sensibilidade quase funk na primeira, enquanto a segunda termina com uma explosão quase garage rock, que potenciou mosh, crowdsurfing e outros ingredientes que associamos ao género. As cinco partes de QOTSA brilharam ao seu jeito – Troy Van Leeuwen esteve a cargo dos leads mais sinistros, Michael Shuman foi a âncora das linhas graves, Dean Fertita foi um pivot de teclados e guitarras, Jon Theodore marcou o ritmo e motivou um solo a meio de “No One Knows” e Josh Homme dançou, cambaleou e liderou a “orquestra”, dirigindo-se algumas vezes ao público e respondendo a alguns comentários, como é hábito. Enquanto isso visitou-se o passado distante com “In The Fade” ou “Burn The Witch”, mas nunca se chegou a referir ao intenso álbum de estreia, e testou-se ainda os singalongs mais recentes de “I Sat By The Ocean”, “My God Is The Sun” ou “If I Had A Tail”.
Numa vertiginosa recta final deixou-se o público rouco para “Little Sister” e “Go With The Flow”, acendendo-se o cigarro para a viagem final de “A Song For The Dead”, um daqueles temas que não nos importávamos de ter na única cassete do carro ao atravessar um país. Esse final, quase apontado aos mais cépticos ou críticos dos tenros trabalhos lançados, terá agradado certamente, mas foi ainda mais especial para os apreciadores de todo o catálogo. É que não se espera que os Queens Of The Stone Age passem mais de vinte anos a escrever músicas para atravessar a Route 66 e, tanto em álbum como ao vivo, desafiam a monotonia com um pé de dança, um brinde e com tudo aquilo que o rock’n’roll deve ser enquanto ideologia: estão pouco preocupados com o que os outros acham, dizem ou preferem.
[RoyalSlider Error] No post attachments found.
Os Future Islands, a dar seguimento ao festival no Palco Sagres, já não são aquele “segredo” escondido e confirmaram toda a felicidade que já haviam dado ao palco secundário do NOS Alive há três anos atrás. Samuel T. Herring, o vocalista que incarna uma espécie de Morrissey com uma energia inesgotável, dança, berra e mostra ser o frontman perfeito. A parte teatral, ou mesmo espontânea de Herring, que consiste em movimentos ferozes e danças hipnóticas, transforma por completo a performance em palco deste trio. É um daqueles casos em que a banda sabe encher as canções com uma parte visual, mesmo dando o corpo de um dos seus membros, agarrando qualquer fã que queira sair dali a cantar cada verso de “Balance”, “A Song For Our Grandfathers” ou “Seasons (Waiting On You)”. Continuam a fazer todos felizes e a preencher qualquer palco por onde quer que passem.
Para movimentar já os últimos presentes no Palco Sagres e quase em jeito de clubbing, a fórmula dos escoceses CHVRCHES deu batida forte para cantar e dançar, de holofotes bem posicionados em fundo de palco para iluminar Lauren Mayberry na apresentação do seu terceiro álbum, editado em Maio, que dá competente continuidade à synthpop que já nos deu singles tão orelhudos como “The Mother We Share”, “Leave A Trace”, “Recover” ou “We Sink”.
[RoyalSlider Error] No post attachments found.
14 de Julho
Após o anúncio do concerto de Pearl Jam no NOS Alive a 14 de Julho, não foi preciso muito tempo para ver os bilhetes diários – e, consequentemente, os passes gerais – esgotados. Mas foi um misto de emoções nos dias que se seguiram. À confirmação de Pearl Jam começaram-se a somar outras valências do rock, como Jack White, Alice In Chains, Franz Ferdinand ou até mesmo At The Drive-In. Depressa o que se tornou um sonho para alguns, numa espécie de boletim da lotaria que se revelou vencedor, para outros não foi bem assim. Aos fãs próprios dessas bandas, em especial de Jack White que há seis anos não actuava em Portugal, foi quase um presente envenenado ao não conseguir bilhetes para a ocasião.
Essa mesma disparidade de fanbases acabou por marcar, de uma forma ou de outra, o curso de todo o dia. Logo desde cedo, a arrancar o Palco NOS às 17 horas, os The Last Internationale de Delila Paz e Edgey Pires não foram mais do que uma hype band, cujos esforços para cativar o público debaixo de Sol quente revelaram-se algo infortúnios. As credenciais foram as mesmas que a dupla de Nova Iorque já nos habituou noutras passagens: música dita de revolução, de apelo à paz e à união, tudo debaixo da asa do rock dinâmico que praticam. «Força, caralho!», gritou Edgey a dada altura, em bom português dada a sua ascendência, a tentar arrancar algo mais do que meros aplausos ao fim de cada tema.
Se no Palco NOS as pessoas juntavam-se para guardar lugar para o grande concerto da noite, no restante festival desfrutou-se de algum invejável espaço em momentos que se esperavam mais preenchidos. Foi o caso de Marmozets, na segunda visita dos ingleses ao festival, desta vez no Palco Sagres. A fraca afluência não impediu à banda liderada por Becca Macintyre de apresentar Knowing What You Know Now, lançado no início do ano, embora tenham sido as mais óbvias “Move, Shake, Hide” e “Why Do You Hate Me?”, do álbum de estreia, a conseguir o maior entusiasmo da plateia.
[RoyalSlider Error] No post attachments found.
Obviamente mais público tiveram os Alice In Chains, no Palco NOS, estranhamente colocados numa hora em que a luz não cessaria o suficiente para acompanharia o tom do grunge negro da banda de Seattle. À eterna discussão da suplantação de um falecido vocalista – William DuVall não é, nem quer ser, Layne Staley – as dúvidas dissipam-se quanto à verdadeira identidade destes Alice In Chains. Ficou mais do que provado com os mais recentes trabalhos, os casos de Black Gives Way To Blue (2009) e The Devil Put Dinosaurs Here (2013), que a real personalidade da banda reside em Jerry Cantrell, principal compositor e indubitável líder. Assim se explica como, apesar de mudança de voz, todo o som lá permanece: a banda recorreu ao seu catálogo mais clássico, com “Again”, “Them Bones” ou “Nutshell” perto do início do concerto, como prova de que o passado não serve apenas para lembrar quem já cá não está, mas também para celebrar quem por cá continua. Staley pode ter sido a voz infindável de “Man In The Box”, de “Would?” e da fantástica “Rooster”, as três guardadas para o final, mas é Cantrell quem carrega a tocha e a passa a DuVall. A banda vive no presente, respeita o passado e encontra-se em paz.
Quem procurou um pouco de sombra no Palco Sagres nos momentos que se seguiram, não avistou mais do que um quarto do espaço preenchido para Real Estate. A música da banda liderada por Martin Courtney é também ela bastante quente, mas a passos de paciência e recorrência. A sua dream pop, ancorada em leads de guitarra sonantes e que muito bebem do indie dos 90’s, não parece ainda ter um público definitivo por cá, também devido ao unfortuito de não terem surgido numa ocasião que lhes possa condizer em dimensão e propósito. Pouco terá ficado de uma pálida apresentação de In Mind, disco lançado em 2017, que mantém a mesma coloração dos três discos anteriores e que dificilmente fará fãs diferentes dos que já tem, seja em estúdio ou em palco.
Apesar da tarefa facilitada em garantir fãs nas primeiras filas, quando já só se falava em Pearl Jam em todo o festival, os Franz Ferdinand não se fizeram rogados e deram um dos concertos mais enérgicos de todo o festival. A banda de Glasgow constituiu um alinhamento que visitou todos os seus trabalhos, servindo-se de três temas para apresentar o mais recente Always Ascending, mas um foco ainda maior na estreia, homónima, que os catapultou para a fama em 2004. A entrada, feita com “Do You Want To” e seguida de “The Dark Of The Matinée”, confirmaram a aposta de Alex Kapranos e companhia em agarrar em pleno a forte afluência do concerto, mesmo em plena hora de jantar. Aquela guitarrada viciante continua lá, mesmo nas mais recentes “Love Illumination” ou “Lazy Boy”, mas é “Michael” que deixa o público para uma sequência que juntou ainda “Ulysses”, “Take Me Out” e “This Fire”, esta última com direito a um salto colectivo à contagem da banda. Há poucas bandas arrancadas nesses anos dourados do indie rock, no início do milénio, que mantêm a relevância e a energia, embora com maturidade, que estes Franz Ferdinand mantêm.
[RoyalSlider Error] No post attachments found.
O nome de Jack White é, à data de hoje, um dos obrigatórios no que toca à definição dos melhores e mais consagrados guitarristas de rock desde o virar do milénio. Pelos seus vários projectos e, finalmente, pelo seu trabalho a solo, iniciado em 2012 com Blunderbuss, disco que motivou a anterior passagem do músico de Detroit por Portugal, Jack continua a dar diferentes provas de fundir o rock com blues, folk e country, com a habitual sensibilidade punk e garage que definiu a génese dos seus The White Stripes. A mais recente evidência é Boarding House Reach, o terceiro álbum a solo, que não se mostra tímido a pisar os campos do gospel, do funk ou da soul, de forma q.b., como se já não bastasse a extensa variedade de sons e efeitos de que é capaz através do uso da guitarra. “Over and Over and Over”, single mais óbvio deste novo álbum, deu arranque ao concerto, após um pequeno solo de bateria, pouco antes de “Lazaretto”, enquanto faixa-título, ter feito a única visita ao antecessor registo.
Daí seguiram-se várias visitas a temas eternos de White Stripes, como “Hotel Yorba”, “Black Math” (com a força introdutória de “Cannon”), “We’re Going To Be Friends” ou “I’m Slowly Turning Into You”, intercalada por “I Cut Like A Buffalo”, sacada do catálogo dos The Dead Weather. A ovação sentida por “Steady, as She Goes”, na primeira visita aos The Raconteurs – a outra seria “Broken Boy Soldier”, já perto do final – fez Jack falar novamente de amor. Fê-lo em “Love Interruption”, repetiu em “Connected By Love” e finalmente desabafou “You Don’t Know What Love Is (You Just Do As You’re Told)”, dos ‘Stripes’, numa ligeira indirecta a um público desligado, visivelmente mais preocupado com o concerto que se seguia do que com a imensidão da sua presença. O resto da banda fez também as partes possíveis para agarrar, em especial a baterista Carla Azar, reconhecida dos Autolux, que por várias vezes nos trouxe à memória aquela dinâmica de duo entre Jack e Meg White. “Icky Thump” serviu para apontar dardos à face de Trump, em ecrã de fundo no palco, e “Seven Nation Army”, obrigatória por ‘conveniência’, parece ter despertado a maioria do público que estaria a meter a conversa em dia. «Vocês têm sido incríveis e eu tenho sido o Jack White», rematou no final, embora não pudesse ter ficado mais incrédulo com a apatia de tantos milhares de pessoas que, a julgar pelas caras, parecia desconhecer este ser o autor daquele «hino dos estádios de futebol». Esperemos que o regresso seja rápido e dedicado aos seus próprios fãs.
Na hora em suspenso que se seguiu, na preparação e no habitual potencial atraso de um headliner muito aguardado, respondeu-se na ponta oposta do festival com mais música. A voz doce de Mallu Magalhães trouxe carinho paulista ao público português, que já a bem conhece e se deixa conquistar desde que se mudou para Lisboa. Um híbrido de folk, samba, bossa nova e indie, ao jeito canarinho de Vem e ainda com visitas à sua Banda do Mar, de onde se destacou, no alinhamento, a interpretação sorridente de “Mais Ninguém”. Para dar o outro peso da balança, de forma estridente, efusiva e absolutamente punk, os 800 Gondomar fizeram do palco Coreto mais um espaço possível para debitar rock cru e duro, sem tempo para floreados e cerimónias, como se quer.
[RoyalSlider Error] No post attachments found.
A grande ovação que os Pearl Jam receberam ao entrar em palco resultou de uma série de eventos: da longa espera desde a anterior visita, em 2012; dos largos meses desde que esgotaram os bilhetes para os ver nesta edição do NOS Alive; e, algo menor, da expectativa acumulada com o concerto a começar quinze minutos depois da hora marcada. “Low Light” e “Better Man” dissiparam quaisquer dúvidas em relação à entrega do público e de Eddie Vedder, cujas vozes foram quase sempre uma só. Daí partiu-se para um concerto para os ávidos fãs, com visitas menos óbvias ao seu catálogo, num sentido transversal a sete álbuns da banda – houve até tempo para um novo tema, “Can’t Deny Me”, single que abre o apetite para o 11º álbum da banda de Seattle. No entanto foi Ten e Vs., os seus dois primeiros trabalhos, que mais vezes foram entoados.
Houve momentos de total euforia calculada, como em “Even Flow”, “Jeremy” ou “Black”, rosto da entrega ao trabalho de estreia, mas também ocasião para o imprevisível. Nesse campo “Rise” fez correspondência a uma homenagem às vítimas dos incêndios florestais e “Daughter” teve uma passagem em português, apenas mais uma das várias intervenções que Vedder fez na nossa língua. Mas o activismo possível, ou esse embelezamento da músico enquanto arma de protesto e de apelo, fez-se através de versões: não foi tanto o caso de “Interstellar Overdrive”, mas mais de “Comfortably Numb”, também esta dos Pink Floyd, que abriu o encore juntamente com “Imagine” de John Lennon. A utopia da união e da paz estendeu-se a um pequeno acenar a “Seven Nation Army” na linha de baixo, chamando Jack White novamente ao palco para a final “Rockin’ In The Free World”, hino do rock celebrizado por Neil Young. Antes desse, um outro hino, talvez aquele possa ter dado nome ao festival – recorde-se que os Pearl Jam estiveram na primeira edição, em 2017 – e podia ser oficializado: “Alive” foi o ponto mais alto do concerto dos Pearl Jam, suplantando quaisquer cálculos, palavras e acasos. Por vezes basta o público estar sintonizado para a magia acontecer.
O tumulto repentino dos texanos At The Drive-In, com um misto de urgência, confusão e erupção – não ficámos a saber ao certo como isto tudo se processou – deu uns trinta minutos, se tanto, de pura elevação no Palco Sagres. Cedric Bixler-Zavala, frontman louco e a disparar em todas as direcções, mostrou-se desagradado com o enorme atraso a que a banda esteve sujeita, isto enquanto os Pearl Jam somavam encores. «Os Pearl Jam deram um concerto muito longo, mas não tão longo como a minha pila», disse-nos Cedric, assumindo que os At The Drive In queriam tocar mais tempo. Entre berros, equipamento de palco pelos ares e algumas acrobacias, deu para um apanhado de faixas intergeracionais, entre o regresso ao activo em 2015 (e, consequentemente, o novo álbum In•ter a•li•a) como “Hostage Stamps” ou “Governed By Contagions”, e escolhas tão óbvias como “Sleepwalk Capsules” e “One Armed Scissor”, esta última como farpa final do concerto. Mais bocas direccionadas a outras rockstars, como Steven Tyler ou Johnny Depp, morreram num ligeiro suspiro: «obrigado por terem ficado para nos ver», apontado a uma tenda longe de cheia, mas igualmente efusiva, perplexa e revoltada.
Ao fim de três dias de festival e de tantas horas em pé, a cantar, a saltar e a celebrar – mais somados os atrasos e a grande debandada dos fãs de Pearl Jam – ficou para MGMT quem quis apanhar as canas dos foguetes. O lixo espalhado pelo recinto, bastante visível devido aos espaços conquistados com a saída do público, deu um cenário quase pós-apocalíptico ao set dos norte-americanos. Um palco decorado com vegetação e um insuflável gigante da figura que ilustra a capa do surpreendente novo álbum, Little Dark Age, contribuíram para essa construção de cenário idílico de quem estava disposto a dançar até altas horas ao som de “Time To Pretend”, “Weekend Wars”, “Electric Feel” ou “Me and Michael”. O alinhamento dividiu-se portanto entre o novo trabalho e a estreia Oracular Spectacular, que se refrescou muito bem com esta nova roupagem do duo, e a despedida ficou entregue à jovialidade, ao novo mundo e à mudança, com “The Youth”.
Nem a propósito esse tema final dos MGMT. «The youth is starting to change / Are you starting to change?», questiona-se ao entoar o refrão. A juventude está a mudar e os festivais de verão são um espelho dessa transmutação. Um exemplo claro é, por exemplo, a roupa que se usava e que hoje toma lugar num festival. Existe a preocupação de um look, de uma presença e talvez até de um estatuto. Nisso nenhuma responsabilidade cabe ao NOS Alive, que por mais uma vez construiu um cartaz primoroso e garantiu condições favoráveis para memórias inolvidáveis. Por outro lado, o mesmo público apreciou esta edição com os grandes nomes mais focados no rock, apesar de não ser uma predominância na música mais popular da última década. Afinal mudam-se os tempos, mas mantêm-se as vontades – certo é que o NOS Alive celebrou o rock e o público gritou presente.
Texto: Nuno Bernardo
Fotografia: Rita Bernardo