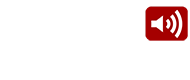Ao longo de quinze anos e vários álbuns a solo, Tim Hecker afirmou-se como um músico capaz de um vocabulário extenso nas dissertações do drone, um pintor de paisagens invisíveis. De Haunt Me, Haunt Me Do It Again a Virgins existiu uma disciplina que só ao canadiano pôde ser atribuída, com algumas obra-primas assinadas no espectro da música ambiental. Mas a sua «mente dum arquitecto encaixada no coração dum romântico», citando as assertivas palavras de Rui P. Andrade sobre a anterior passagem de Hecker por Portugal, trouxe-lhe um novo disco menos sombrio e mais leve – Love Streams, editado pela 4AD, parece querer fugir à norma que o seu próprio autor assinou. E foi apresentado na passada terça-feira, 10 de Maio, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.
As pinceladas rosa e laivos azuis dos LEDs colocados estrategicamente pela sala, tanto quanto nos deu a perceber o trabalho visual de Marcel Weber enquanto MFO, sumiram algures pela densidade do fumo que se avistou logo à entrada. Ainda existia quem procurasse uma cadeira vazia pelo auditório sem ver um palmo à frente, como um míope a procurar um par de óculos, quando as vibrações de Love Streams iniciaram uma terapia audiovisual. Para quem já seguia o trabalho de Tim Hecker, fora ou em cima do palco, assistiu a uma transmutação latente dos seus trabalhos, projectando de alguma forma os escapes densos que saltam à mente quando Ravedeath, 1972 ou Virgins são escutados, mas de uma forma (demasiado) pouco claustrofóbica e nada desalumiada.
Uma das particularidades das construções de Hecker reside na forma como filtra as texturas, dando muita importância à dissolução dos relevos e à suavidade das arestas. As mudanças de tom ou a inclusão de novos elementos surgem de forma quase imperceptível, dependendo da evolução dos seus escapes sonoros para ritmar os próximos eventos ao longo de um disco. Esse sfumato, qual renascentista sempre atento às estéticas do mundo novo, conheceu uma extensa palete de cores em Love Streams, dos arpeggios iniciais aos dissonantes tons dos coros vocais. Mas se para uns esta é a verdadeira qualidade do novo disco, para outros é o que faz dele um álbum pouco digno da terminologia sepulcral de quem nos deu o incrível Harmony In Ultraviolet há dez anos atrás. E essas divergências multiplicaram-se ao longo de pouco mais de 40 minutos no Teatro Maria Matos.
Deixado para trás o conceito de uma sala às escuras, os feixes de luz, aliados à parede de fumo que tornou o ar quase irrespirável, desenharam a capa do novo disco. Tudo ali ao dispor de quem fez de uma cadeira a sua morada errante, perdendo o sentido de orientação da sala, da vizinhança e, sobretudo, da envolvência sonora. Infelizmente, pois era precisamente neste último aspecto que se devia alicerçar um concerto do qual não conseguimos avistar o seu responsável.
Texto: Nuno Bernardo
Fotografia: José Frade/Teatro Maria Matos