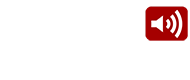Podíamos claramente repetir-nos aqui, e da mesma forma como abrimos a reportagem da edição anterior, assim abrir esta. Nada seria menos verdade. O Amplifest já assumiu garantidamente um lugar no pódio por entre os festivais citadinos em Portugal. Na edição em que consumou já o seu quinto aniversário, o Amplifest continua a crescer e a chegar a mais e mais longe. Ao tentar ser somente igual a si própria, a Amplificasom acaba por não ser igual a nenhuma outra promotora, e se isto conseguiu soar de alguma forma simplista ou a uma posição de conforto, enganem-se. A edição de 2015 do Amplifest foi de forma absoluta mais arriscada do que qualquer outra que tenha ficado para trás, e ter conseguido planear e combinar um alinhamento tão díspar tem certamente tanto de arte como de loucura.
Os Full Of Hell marcaram de forma definitiva o arranque do dia de sábado. A chapada de intensidade que representou Roots of Earth Are Consuming My Home é precisamente o que os norte-americanos arrastam para o palco. A tempestade perfeita criada naquela nuvem de hardcore, power electronics e noise: a fórmula de um tufão capaz de arrasar uma capital inteira num punhado de minutos e deixá-la sem saber o que é que por ali passou exactamente. Se os Full Of Hell encarnam destruidores dos mundos, Sarah Lipstate sob o alias de Noveller trouxe uma bem vinda metamorfose de paisagens, numa primeira prova de que o Amplifest continua a ser um festival de dualidades e de simbioses calculadas. Não adoramos Fantastic Planet, verdade seja dita, parece-nos acima de tudo que lhe falta uma personalidade mais vincada e que se mostra algo perdido a espaços no que é o seu propósito e lugar. No entanto, ao vivo as coisas parecem mudar de figura, expondo-se este de forma bem mais interessante e emocionalmente cativante, sendo Lipstate capaz de nos sugar finalmente para aquela teia maravilhosa que vai compondo a sua guitarra.
A um ponto do processo tememos que nunca fosse voltar a acontecer; que o nosso reencontro com os Altar Of Plagues tivesse ficado eternamente adiado. Sem rótulo de reunião ou merda nenhuma. Foi assim que em Dezembro do ano passado os irlandeses anunciaram que iriam voltar a pisar os palcos, para um punhado de propostas e uma mão cheia de concertos. Já em 2008 e com Sol sentimos que estávamos perante uma banda especial, e até ao último segundo de Teethed Glory and Injury continuamos a sentir o mesmo. Tão cedo não saberemos se aquelas últimas notas de “All Life Converges to Some Centre” ecoaram pela derradeira vez nas paredes duma sala portuguesa, sabemos apenas que, e durante algum tempo, recordaremos aquele espaço como o cantinho em que vimos uma das maiores bandas de black metal dos nossos tempos dizer-nos adeus. “Nothing was promised, it always remains. Horses are rapid and ready.”
Os Converge foram o primeiro nome confirmado para esta quinta edição do Amplifest e por ventura o nome maior e mais atractivo em todo o cartaz. Com uma carreira que se estende já ao longo de 30 anos, haverão poucas ou nenhuma banda que se aproxime sequer do estatuto que os norte-americanos auferem no universo da cena hardcore. Do estatuto de autêntico culto que rodeia um álbum como Jane Doe aos mais recentes No Heroes e Axe To Fall, os Converge mostraram saber envelhecer como poucos, conquistando o equilíbrio perfeito entre uma sonoridade que não teme a mudança mas que se mantém tão caracterizável quanto sempre. No que foi o concerto final duma curta tour europeia, os Converge deram uma lição de hora e meia de intensidade física e emocional que culminou numa tríade perfeita com “Cocumbine”, “Last Light” e a arrepiante faixa título de Jane Doe duma assentada. Se não é das melhores maneiras de sempre para fechar um concerto, então não sabemos nada.
James Kelly trouxe-nos o que de melhor se viu e ouviu neste Amplifest. Foi ele o homem do jogo; o carregador de piano e o trequartista no corpo de uma pessoa só. Se com Altar Of Plagues vimos o irlandês sujar a camisola oito por uma das últimas vezes, foi com WIFE que o génio de Kelly brilhou com o número dez nas costas, no que é bem capaz de ter sido um dos nossos momentos favoritos na história do festival. A electrónica contagiante de WIFE carrega ao vivo um carácter orgânico e um peso emocional que não aparenta em álbum, e se foi em Stoic e em What’s Between que assentou grande parte do alinhamento, James Kelly encontrou, naquela nuvem de pop, dub e rnb filtrada por dois Ampeg, ainda espaço para nos apresentar a um punhado de faixas novas. A um ponto demos por nós a dissociar as ancas e os ombros; o Amplifest tinha virado pista de dança e não conseguimos não esboçar um sorriso. Quando pouco parecia poder melhorar, reconhecemos “2 On” remixada por entre a mistura. Estávamos ali e estávamos a dançar Tinashe, de olhos colados ao chão e contra as ondas de graves que se iam abatendo sobre os corpos. Por duas vezes James Kelly subiu ao palco no primeiro dia de Amplifest para com WIFE fechar o que foi uma noite quase perfeita de concertos. Se por aí anda uma petição para que aconteça sempre, assinaríamos mil vezes.
Será o som passível de mudança apenas aos ouvidos e percepção do receptor? O mesmo conjunto de notas repetido no tempo torna-se diferente perante o espaço que as limita? Há sequer um padrão a estabelecer quanto à noção que temos do que ouvimos? De William Basinski, no sábado, para Stephen O’Malley no dia seguinte; a mesma mão cheia de perguntas enquanto o relógio parecia ter virado monólito de gelo. Sob um olhar desatento, a música de ambos parece-nos chegar de universos bem distantes, uma podendo quase representar o antagonista da outra, não fossem as verdades fundamentais e as bases em que uma e outra assentam funcionarem de forma idêntica. Estava a sala a transformar-se perante a pressão acústica de um ou estava esta a moldar o som de outro? O seguimento de questões é tão gigante e espaçoso quanto a música de Basinski e tão denso e encorpado quanto à de O’Malley. Ninguém que tenha saído a meio de um dos dois concertos pode ter tido a noção total e exacta do que foram, e se em parte exigiam a quem lá estava que se entregasse de forma dedicada, souberam também espaçar a sua imposição perante a plateia. Ver, por entre concertos de Altar Of Plagues e Converge, uma Sala 2 em grande parte curvada e entregue a Basinski, parecia cenário saído dum sonho embriagado; e se, por incrível que pareça, os loops de Basinski rapidamente converteram os presentes à luz da sua igreja, o altar de amplificadores de O’Malley representou um autêntico chicote à submissão. De forma exemplar ,surgiram então dois norte-americanos a juntar as duas pontas e partes deste Amplifest, estabelecendo o que foi a ponte perfeita entre ambos os dias de festival. Nota apenas quanto à consideração dum público perante o que fazem designar de música “ambiente” ou contemplativa: não é pano de fundo para conversas que podiam ter lá fora. Isto não deveria nunca ter de ser preciso, mas na ausência de um bocadinho que seja de bom senso, por favor abandonem a sala. Adiante.
Coube a Nate Hall, o senhor U.S. Christmas, dar o pontapé de saída ao segundo dia desta quinta edição do Amplifest. Como se em jeito de acompanhamento do clássico dessa mesma tarde, o cantautor norte-americano trouxe para cima da mesa o sublime A Great River, de 2012. Perante uma Sala 1 que se revelou demasiado espaçosa para a delicadeza e real natureza da folk e americana saída da voz e guitarra de Nate Hall, o coração e a genuína identidade da música de Nate Hall lutou por vir ao de cima e falhou, infelizmente. Num enquadramento já bem diferente vimos os ritmos maquinais da electronica de Atila ecoar contra uma malha de projecções milimétricas; a claustrofobia, de dentes cerrados, feita exponencial.
Pela terceira edição consecutiva o Amplifest aposta na presença em cartaz duma banda surpresa, e se no passado essa responsabilidade calhou aos Catacombe e aos Sektor 304 preencher esse espaço, pela primeira vez coube a uma banda estrangeira fazê-lo no palco da Sala 1 do Hard Club. Ainda há pouco tempo sob o nome de Beastmilk, agora como Grave Pleasures; foram os finlandeses os escolhidos para desta feita encarnar o ponto de interrogação. O rock e o pós-punk dos nórdicos não nos cativou minimamente, longe disso. Aquele misto entre uns Joy Division uns bpm mais acelerados e a postura exibicionista à banda de rock de décadas passadas só nos lembrando de uma ou outra coisa que poderíamos ouvir de uns Blind Zero, se estes andassem com uma nuvem um nadinha cinzenta às costas, pelo menos. Horas mais tarde foram os Metz quem marcaram presença nesta mesma Sala 1, e se há algo do qual nunca ninguém poderá acusar os canadianos é de não trazerem baterias e baterias de energia interminável para cima do palco; isso e suor, litros dele. Se ainda assim conseguimos não achar tudo aquilo aborrecido? Infelizmente, não. Se até por momentos parecia estar a ser incrível, sempre nos pareceu que àqueles rapazes de Toronto falta também uma noção de quando e como abrandar, e essa falta de dinamismo que impõe à estrutura da sua música faz-nos sentir que passados cinco minutos já teremos ouvido tudo o que possa estar para a frente.
Três anos, três concertos dos belgas na cidade do Porto. O fenómeno que rodeia os Amenra e a própria Church Of Ra ainda nos custa de certa forma a assimilar, e com o anúncio recente de que os próprios iriam abandonar os palcos após o final da digressão em curso, a actuação neste Amplifest tinha tudo para adquirir contornos especiais. O melhor esteve mesmo reservado para a primeira metade – “Razoreater” é um monstro autêntico – quando passada a marca de meio termo não conseguimos evitar pensar que o cavalo negro encarnado Amenra terá quebrado em automatismos. A própria “Silver Needle. Golden Nail” banalizou-se para a despedida e o gosto que deixa é amargo. Ainda há dois anos naquele mesmo palco; já os vimos em bem melhor forma.
Até há bem pouco tempo, a ideia de ver Gnaw Their Tongues ao vivo não seria certamente sequer levada a sério. Há tanto na música de Mories que o fará carregar sempre o estatuto de “bedroom producer”, sendo pela certa um dos mais prolíficos e peculiares artistas do género, a quantidade de lançamentos que foi acumulando desde 2006 não nos deixa enganar. Quem vos escreve recorda ainda a primeira vez que ouviu aquele An Epiphanic Vomiting of Blood, de como mil e uma portas de repente se abriram e de como muita coisa mudou daí para a frente. A parafernália diabólica que compõe o corpo do monstro que é GTT faz-se duma drum machine impiedosa, de grunhidos arrancados aos confins do inferno e de jactos de bílis ruidosa que nos mordem os tímpanos. Ainda assim parece-nos ter faltado aspereza ao que representa GTT em palco – mais noise e menos blast beats disparados a tempo inteiro – mas acima de tudo mais definição e maturidade na construção do alinhamento; pareceu tudo ainda demasiado novo para resultar tão bem quanto podia.
Se os públicos fazem-se conquistar com empenho e trabalho, os eventos especiais fazem-se na fronteira do risco entre um potencial falhanço e o altar da consagração, e ver a paixão e a dedicação que a malta da Amplificasom estampa em cada evento que organiza é um verdadeiro prazer. Sábado viu o melhor seguimento e alinhamento de qualquer edição passada do festival, e é precisamente essa evolução linear para mais e melhor que nos faz apaixonar ano após ano. Ainda agora acabou e já só pensamos em regressar.
Texto: Rui P. Andrade
Fotografia: Carolina Neves